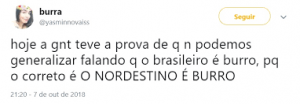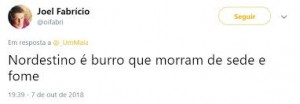Texto: Helena Martins*
“Sem precedentes”. Assim a presidenta da missão de observadores da Organização de Estados Americanos (OEA) para as eleições brasileiras, Laura Chinchilla, classificou o fenômeno da difusão de notícias falsas em nosso país. Um dos fatores para a eleição do ultradireitista Jair Bolsonaro à presidência da República, a desinformação já era alvo de preocupações e ações por parte de instituições públicas e da sociedade civil, mas as medidas adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pelas plataformas, especialmente o WhatsApp, não foram suficientes para conter a prática, que deve ser entendida como uma violação do direito à comunicação, pois impacta a circulação de ideias, a interação, o diálogo e o debate público.
A presença da desinformação no contexto das eleições brasileiras tem sido constatada por diversas pesquisas. A realizada pelo instituto IDEA Big Data, a pedido da organização Avaaz, mostrou que 93% dos eleitores do presidente eleito relataram ter sido expostos a conteúdos sobre supostas fraudes nas urnas eletrônicas, com 74% afirmando ter acreditado na informação. O IDEA ouviu 1.491 pessoas em todo o Brasil, entre os dias 26 e 29 de outubro. Já o levantamento feito pelo Ibope Inteligência junto a duas mil pessoas, entre os dias 18 e 22 de outubro, apontou que 90% dos entrevistados disseram ter recebido algum tipo de desinformação. Por outro lado, apenas 4% e 5% afirmaram confiar em conteúdos compartilhados por meio das plataformas WhatsApp e Facebook, respectivamente, o que mostra a dificuldade de definir o impacto real no pleito.
Embora seja necessário afastar determinismos e explicações monocausais sobre a ascensão da direita ao cargo máximo da República, é impossível negar a contaminação debate público por mentiras. O instituto Atlas Político, por exemplo, mostrou que duas notícias desmentidas por agências de checagem teriam alcançado cerca de um terço do eleitorado: a de que o candidato Fernando Haddad (PT) teria criado um “kit gay” e a de que o jornal Folha de São Paulo teria sido “comprado pelo Partido dos Trabalhadores (PT)”. A presença das redes também é um fator importante a ser considerado. Segundo a empresa Whstsapp, mais de 120 milhões de brasileiros possuem o aplicativo instalado em dispositivos móveis. O Facebook, por sua vez, em 2018 somava 127 milhões de usuários ativos mensais no país, atingindo quase dois terços da população.
Antes mesmo das eleições, outras discussões públicas já vinham sendo marcadas pela desinformação. Em março, a vereadora Marielle Franco (PSOL) e seu motorista, Anderson Gomes, foram assassinados na cidade do Rio de Janeiro. A comoção pública que fez com que milhares de pessoas tomassem ruas do Brasil e de outros países para clamar por justiça também foi acompanhada por uma avalanche de notícias falsas. “Ex-esposa de Marcinho VP”, “defensora de facção rival e eleita pelo Comando Vermelho” e “engajada com bandidos” foram algumas das afirmações disparadas contra Marielle nas redes sociais, levando a família e o PSOL a acionarem a Justiça. Parte dessas declarações falsas partiu do então deputado Alberto Fraga (DEM-DF) e da desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) Marilia Castro Neves, o que mostra a conexão da prática da desinformação com as institucionalidades constituídas e com a mídia tradicional, que deu visibilidade às agressões.
Desinformação em escala industrial
A estratégia de lançar mão de inverdades, informações descontextualizadas ou distorcidas não é nova. Na história da imprensa, são comuns registros de notícias falsas. Para ficarmos em um exemplo recente, vale lembrar o caso que ganhou a alcunha de “bolinha de papel”. Em 2010, o então candidato do PSDB à presidência, José Serra, foi atingido na cabeça por um objeto, o que o fez encerrar a caminhada que fazia com correligionários e partir em busca de um hospital para fazer exames. A extensa cobertura midiática, com direito à reconstituição do episódio e contratação de perito para análise de imagens, endossou a versão da agressão com “objeto contundente”. Depois, veio à tona que ele havia sido atingido por uma bolinha de papel.
Ocorre que, além dos padrões de manipulação da informação característicos da imprensa, como a ocultação e a fragmentação de fatos, outras formas de desvirtuamento emergem com as redes sociais, como explica o professor de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Rogério Christofoletti. Para ele, estratégia, volume e automatização de processos dão novos contornos às práticas de manipulação no atual ecossistema informacional.
O viés estratégico dessa operação por parte da campanha do candidato Jair Bolsonaro (PSL) ficou nítido após denúncia do jornal Folha de S. Paulo. Publicada no dia 18 de outubro, reportagem da jornalista Patrícia Campos Mello mostrou que empresários estavam bancando campanha contra o PT e seu candidato, Fernando Haddad, pelo WhatsApp, sem declarar tal gasto à Justiça Eleitoral. Os contratos feitos com empresas de marketing para impulsionar notícias falsas somavam R$ 12 milhões. A revelação foi parar na Justiça. Ao TSE, o PT pediu que Bolsonaro fosse declarado inelegível por oito anos. O candidato de extrema-direita negou participação em esquema de proliferação de fake news. A denúncia segue sendo investigada.

Citando o caso como exemplo, Christofoletti explica que “há uma lógica de ocultação dos processos e das intencionalidades que vão guiar essas práticas de desinformação”. “Há um mercado muito rentável hoje – cada vez mais estamos informados sobre isso – envolvendo um complexo ecossistema com pequenas, médias e até grandes indústrias de fabricação de informação, principalmente para guiar interesses político-partidários e para guiar interesses econômicos ou financeiros”, afirma.
A intencionalidade referida como estratégia pelo pesquisador revela-se também no conteúdo, com formatos que vão além daquele da notícia tradicional, abrigando propaganda, conteúdos humorísticos, imagens e outros. O que importa é que sejam conteúdos de fácil circulação, detalha. Para o funcionamento dessa engrenagem, outra violação do direito à comunicação é ativada. Trata-se do chamado zero rating, prática de disponibilização de acessos a determinados aplicativos escolhidos pelas operadoras de telefonia, sem desconto de franquia. Assim, muitas vezes é impossível até abrir um link externo ao aplicativo para ler o conteúdo antes de divulgá-lo, o que dificulta a confirmação das informações recebidas ou a busca de detalhes sobre elas. A prática reflete os desafios à inclusão digital no Brasil.
Quanto ao volume, se antes falávamos em reportagens que podiam ser vistas nos poucos meios de comunicação existentes no Brasil, dada a concentração midiática marcante no país, agora a difusão ocorre de forma direta por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens e as visualizações são contadas aos milhares, o que dificulta também o acompanhamento do que está ocorrendo em grupos de WhatsApp que podem reunir até 250 pessoas. É o que mostra estudo realizado pelos professores Pablo Ortellado (USP), Fabrício Benvenuto (UFMG) e pela agência de checagem de fatos Lupa em 347 grupos de WhatsApp. Neles, circularam 846 mil mensagens, entre textos, vídeos, imagens e links externos, entre os dias 16 de setembro de 7 outubro. Diante da impossibilidade de analisar todas elas, os pesquisadores destacaram e analisaram as 50 imagens mais compartilhadas e concluíram que apenas quatro delas eram verdadeiras (8%), oito (16%) eram falsas e quatro (8%), insustentáveis. As demais eram reais, mas nove faziam alusão a teorias da conspiração sem comprovação e sete continham fotos retiradas do contexto.
Por outro lado, o volume de canais não significa fim da concentração na produção das informações. Pesquisadores do grupo Tecnologias da Comunicação e Política da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), vinculado ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital (INCT.DD), monitoraram 90 grupos existentes no WhatsApp e constataram que 99,11% dos perfis que interagem neles estão conectados direta ou indiretamente por meio de uma rede de pessoas. Integrante do grupo, o pesquisador João Guilherme Santos aponta que há uma estrutura de conexões entre os grupos analisados, a qual propicia a viralização de conteúdos, subvertendo o uso da plataforma como espaço originalmente pensado para conversação interpessoal.
Esse processo se dá em diferentes etapas: “Você pode ter uma primeira etapa mais profissionalizada de envio massivo; uma segunda em que há esse engajamento mais voluntário, que pode não ter nenhuma relação direta com aquela construção profissional, e, por fim, você tem um contingente enorme de pessoas que recebe, mesmo sem estar envolvida na produção ou na circulação, como por meio de grupos de família”, detalha.
O grupo da UERJ dedicou-se, sobretudo, à análise da segunda etapa, que é a da difusão das mensagens. Com as pesquisas, “o que a gente conseguiu comprovar foi que os grupos interessados em política funcionam com uma lógica de rede, por meio da qual se dá a viralização. É isso o que faz com que todo esse impacto seja possível. Sem viralização, o custo para envio de mensagens seria proibitivo, mas como você tem uma rede de voluntários que viraliza o conteúdo, o custo é mínimo. Na prática, você paga uma mensagem e ela acaba chegando a milhares de pessoas”, explica João Guilherme. Há, portanto, uma lógica de continuidade entre uma ação coordenada de produção de conteúdos e sua distribuição por meio de pessoas que voluntariamente se engajam na difusão das mensagens.
Outros fatores têm contribuído para a disseminação de notícias falsas, conforme pesquisadores do Instituto Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS Rio). Eles monitoraram 110 grupos políticos abertos no WhatsApp entre os dia 17 e 23 de outubro, parte do segundo turno do pleito, e perceberam a existência de “fortes indícios” de ação automatizada em múltiplos grupos, bem como um alto grau de interconexão. O fato de haver um número elevado de administradores e membros que os grupos compartilham entre si é exemplo disso. Ademais, a partir da análise de uma amostra de mensagens, foi observado que os usuários mais ativos enviavam mensagens em uma média 25 vezes maior do que a média geral dos participantes. O tempo entre os envios – de 1 a 20 segundos – e o uso de fotos impessoais nos perfis também contaram para que os estudiosos concluíssem que “existem elementos que apontam para grande probabilidade desses usuários serem produto de automação, total ou parcial, para a difusão de conteúdo, podendo ser classificados como bots (automação total) ou ciborgues (automação parcial)”.
Dados pessoais como insumo da fábrica da desinformação
Esses estudos evidenciam uma transformação no uso das redes sociais. No caso do WhatsApp, dificilmente o aplicativo poderia ser hoje descrito como um mensageiro privado, já que ganhou expressiva dimensão pública e de agregação de contatos. “Os canais de distribuição se desenvolveram e mudaram de perfil de maneira surpreendente nos últimos anos. O motivo para isso não foi porque as pessoas passaram a se comunicar mais, mas porque o uso de dados pessoais possibilitou apontar, por exemplo, quais pessoas poderiam ser mais ou menos suscetíveis a determinados conteúdos”, avalia o professor do mestrado em Direito do Instituto Brasiliense de Direito Público e consultor do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), Danilo Doneda.
Para Doneda, o problema das chamadas fake news hoje está mais associado à proteção de dados pessoais do que à discussão sobre verdade. “Sem uma utilização abusiva de dados pessoais, a gente não teria tido essa difusão absurda de notícias falsas”, opina, acrescentando que essa disponibilidade de informações levou ao refinamento de técnicas de manipulação de informações que já eram utilizadas por agências de marketing. Como exemplo de dados disponíveis na plataforma, ele cita os nomes das pessoas e seus contatos. “Seu número, diferente do que ocorre no Telegram, fica visível no grupo, portanto ele pode ser catalogado e utilizado para outro fim”, detalha.
Outras formas de mineração de dados pessoais têm permitido a disseminação da desinformação. A partir da reunião e do processamento de informações como sites visitados e palavras utilizadas, é possível direcionar mensagens para públicos criteriosamente identificados e definidos. No Facebook, esse envio pode ser feito de forma aberta ou por meio do chamado dark post, tipo de postagem que fica oculta na timeline de quem a produziu, aparecendo apenas para a audiência definida previamente. Isso permite uma adaptação dos discursos aos gostos dos públicos – e, como resultado disso, um debate público marcado por informações parciais ou mesmo discordantes que levam à polarização.
Esse direcionamento de informações e seus impactos na esfera pública motivaram debates, inclusive junto ao TSE, que nos últimos anos tem discutido regras para a propaganda na Internet. Com a Minirreforma Eleitoral (Lei 13.488), em 2017, passaram a ser permitidos o impulsionamento de conteúdo e a priorização paga de conteúdos em mecanismos de busca. Depois, a Resolução 23.551/2017 detalhou que as mensagens com essa finalidade deveriam estar identificadas e definiu a necessidade das publicações trazerem as informações sobre o candidato ou partido, como os nomes e o CPF ou CNPJ do patrocinador, o que foi adotado pelo Facebook durante o pleito.
Propostas que garantiriam direitos foram negligenciadas
Desde a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, em 2016, o problema das chamadas notícias falsas veio à tona e passou a ser reconhecido por diversas instituições. A descoberta de toda uma lógica de uso de dados pessoais para segmentação de informações, muitas delas inverídicas ou descontextualizadas, mostrou não se tratar apenas da existência das chamadas fake news, mas de um processo complexo e orientado de manipulação. Diante desse cenário, em 2017 foi divulgada a “Declaração Conjunta sobre Liberdade de Expressão e ‘Notícias Falsas’ (‘Fake News’), Desinformação e Propaganda”, assinada, entre outras organizações, pela Relatoria Especial das Nações Unidas (ONU) para Liberdade de Opinião e Expressão e pela Relatoria Especial da Organização dos Estados Americanos (OEA) para a Liberdade de Expressão. Nela, consta que “a desinformação e a propaganda são muitas vezes concebidas e implementadas com o propósito de confundir a população e para interferir no direito do público de conhecer e no direito das pessoas de procurar e receber, e também transmitir, informação e ideias de todos os tipos, independentemente de fronteiras, que são direitos alcançados por garantias legais internacionais dos direitos à liberdade de expressão e opinião”.
O documento completo pode ser encontrado aqui.
Mais recentemente, ao lançar consulta pública sobre o impacto da desinformação no contexto eleitoral, a Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH/RELE), junto ao Departamento de Cooperação Eleitoral (DECO) e o Departamento de Direito Internacional da Organização dos Estados Americanos (OEA), divulgou texto em que explicita que a desinformação é “entendida como disseminação massiva de informação falsa que se faz (i) sabendo-se de sua falsidade e (ii) com a intenção de enganar o público ou uma fração dele”. Trata-se, portanto, de uma violação dos direitos à comunicação e à liberdade de expressão, entendidos como o direito de receber informações e também de produzir, interagir, participar livremente do processo de comunicação.
Por reconhecer a importância do tema, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), órgão colegiado responsável por promover e defender os direitos no Brasil, aprovou, em junho de 2018, a Recomendação n° 4/2018, na qual apresentou medidas de combate às chamadas notícias falsas e para a garantia do direito à liberdade de expressão, destacadamente na Internet. Uma das recomendações foi direcionada às plataformas Facebook, Twitter e Google e propunha “a adoção de políticas que garantam transparência sobre o seu funcionamento e as regras das suas comunidades e que ampliem o controle dos usuários sobre os conteúdos que publicam e acessam, incidindo sobre o chamado efeito bolha e a estrutura de monetização que estimula a criação e difusão das chamadas ‘notícias falsas’”.
Coordenadora da Comissão Permanente Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão do CNDH e coordenadora do Intervozes, a jornalista Iara Moura explica que o documento objetivava também afirmar a defesa da liberdade de expressão, em um contexto em que o Congresso Nacional discutia dezenas de projetos sobre fake news, o TSE criava comissão para tratar sobre o tema e até mesmo o então presidente da Corte, Luiz Fux, sinalizava que poderia anular o resultado das eleições se ele fosse decorrência da difusão massiva de notícias falsas.
“Nossa preocupação era a de agir em resposta a algumas indicações do Poder Legislativo, do Executivo e do Judiciário com relação à criação de instrumentos legais para combater as chamadas fake news, porque nos preocupava a possibilidade de criminalização da produção e compartilhamento do que se consideram notícias falsas. Em primeiro lugar, porque a gente entende que as definições ainda são muito genéricas. Fica muito difícil delimitar o que é ou não uma notícia falsa e tentativas nesse sentido poderiam trazer riscos para a liberdade de expressão na rede. Por exemplo, havia a proposta de criminalizar o usuário ou responsabilizá-lo pela disseminação de notícias falsas, o que poderia gerar censura e a própria judicialização. Ao mesmo tempo, nos preocupava a formação do comitê para acompanhamento das fake news pelo TSE, porque seria um comitê formado por membros da Abin [Agência Brasileira de Inteligência] e do Exército”, explica Iara.

Buscando uma abordagem positiva para o tema, o CNDH propôs a aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 53/18 sobre proteção de dados pessoais e a admissão, em geral, de iniciativas legislativas que respeitassem os padrões internacionais de direitos humanos, à liberdade de expressão e informação e que promovessem a diversidade na Internet por meio do fortalecimento da comunicação plural, diversa e qualificada, em vez de legislar com enfoque na lógica de criminalização dos usuários. Sugeriu ainda a adoção de políticas públicas de alfabetização midiática e informacional, educação para a mídia e de promoção de práticas de empoderamento digital, como o “fomento à produção de conteúdos positivos e contra-narrativas que engajem a sociedade num debate mais qualificado balizado pelo respeito aos direitos humanos e aos princípios de pluralidade e diversidade, conforme recomenda a Unesco”.
Apesar da mobilização do Conselho e, no mesmo sentido, de organizações da sociedade civil em prol de uma agenda positiva para o tema ter marcado o ano de 2018, pouco se avançou quanto ao combate à desinformação. No Congresso, foi aprovada a Lei de Proteção de Dados Pessoais em julho. O texto foi sancionado, com vetos, em agosto, mas seus efeitos não incidiram nas regras do jogo eleitoral, que já estava em curso. Em relação às medidas propostas pelo TSE, o Facebook criou um sistema de contas de anúncios e exigiu a comprovação da documentação de responsáveis por eles. A empresa também passou a identificar as postagens pagas por candidatos.
Quanto ao WhatsApp, não houve regulamentação voltada ao canal, que acabou sendo amplamente explorado para a promoção da desinformação. Antes do início oficial das eleições, a plataforma, que é de propriedade do Facebook, reduziu a possibilidade de encaminhamento de mensagens de 250 para 20. Os conteúdos encaminhados também passaram a ser identificados. De acordo com informações divulgadas à época pela empresa, o objetivo era o de reduzir a disseminação de notícias falsas. O Facebook apoiou ainda ações de entidades de checagem de fatos no Brasil, como o Projeto Comprova, formado por 24 organizações de notícias. Em novembro, o consórcio anunciou que recebeu mais de 20.000 denúncias de informações falsas e publicou essas descobertas para ajudar as pessoas a distinguir entre o que é verdadeiro e falso.
Essas iniciativas, contudo, foram incapazes de conter a maré da desinformação, avalia Danilo Doneda, para quem teria sido possível implementar ações mais eficazes. Doneda integrou o Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições do TSE e conta que, ainda em março de 2018, foram apresentadas contribuições para o aperfeiçoamento das resoluções do Tribunal sobre as eleições de 2018. Entre as 14 propostas formuladas pela organização SaferNet, assinadas também pelo especialista, estavam: “vedação à utilização como critérios para impulsionamento características do público-alvo relacionadas a atributos sensíveis como origem racial ou étnica, convicções religiosas, a filiação a sindicatos ou organizações de caráter religioso, dados referentes à saúde ou à vida sexual; vedação aos chamamos ‘hidden posts’ ou ‘dark posts’ (sic), postagens pagas direcionadas a um público específico que o resto da população não consegue ver; vedação do pagamento de anúncios e impulsionamento de conteúdo político em moeda estrangeira”, conforme o documento.
As medidas não foram assimiladas pelo Tribunal. Já o Conselho Consultivo vivenciou um hiato de reuniões. “De fato, talvez no momento em que fosse mais útil a iniciativa política do grupo, que foi justamente nos quatro ou cinco meses anteriores à eleição, não houve reuniões. Quando começou a eleição de fato, já não havia muito o que fazer além de apagar incêndios”, detalha Doneda. Ao longo do primeiro turno do pleito, o Conselho sequer chegou a se reunir.
Um dos incêndios foi justamente a crescente divulgação de informações falsas, descontextualizadas, agressivas ou mesmo caluniosas pelo WhatsApp. A fim de pleitear ações para a garantia de um ambiente comunicacional equilibrado, a SaferNet enviou para a companhia propostas de alterações específicas, em dois eixos: medidas técnicas a serem consideradas para mitigar o risco do mensageiro ser utilizado para espalhar desinformação e ações para conscientização dos usuários, verificação de fatos e pesquisa baseada em evidências.
Os especialistas sugeriram que fosse considerada a definição de um “número razoável” de assinaturas do grupo permitido a um usuário único e reduzido o número de encaminhamentos para cinco em vez de 20 chats, como feito na Índia, e de grupos criados por um usuário único de 9.999 a 499. Além disso, eles pautaram a necessidade de a plataforma apresentar mecanismos de checagem de fatos e verificação de notícias falsas, incluir ferramentas para indicar seus usuários de antemão se algum conteúdo de mídia que eles pretendem enviar a grupos ou múltiplos destinatários é considerado uma desinformação por mecanismos certificados, além de trabalhar em conjunto com o TSE, os meios de comunicação e a sociedade civil para desenvolver uma nova educação, conscientização, segurança e aprendizado sobre a disseminação de desinformação no país, com vistas à adoção de melhorias.
Após o primeiro turno das eleições, cresceu a pressão para que medidas garantidoras de um ambiente comunicacional equilibrado sejam efetivadas. João Guilherme Santos aponta, nesse sentido, que é possível “identificar padrões de fluxo de informações e interferir de novo na quantidade de vezes que essa informação pode ser compartilhada”. Danilo Doneda defende também a adoção de recursos que diminuam a capacidade de viralização nas redes e destaca que a proteção de dados pessoais é parte essencial desse processo.
Até agora, contudo, não houve mudanças no funcionamento das redes. No fim do ano, o site WABetaInfo, especializado na cobertura do WhatsApp, noticiou que a plataforma reduziria a possibilidade de encaminhamento para cinco conversas. Nossa reportagem procurou a empresa para confirmar a informação. Ao Intervozes, sua assessoria explicou que esse é um teste que está sendo feito, mas que testes não são comentados oficialmente. Ela também enviou nota em que lista ações que estão sendo tomadas para combater o problema. Além das medidas já citadas, como a parceria com as agências de checagem, apontou a expansão de campanha de educação com anúncios em jornais, sites e rádios em todo o Brasil “para ensinar as pessoas sobre como identificar notícias falsas e bloquear a disseminação destas”, a realização de “treinamentos com tribunais eleitorais regionais e nacionais, partidos políticos, polícia e promotores sobre as regras de como usar o WhatsApp para ajudar a explicar que o app é uma plataforma de mensagens privadas e que contas com comportamentos de spam serão banidas” e o “contato com especialistas em alfabetização digital”, a exemplo das iniciativas Énois Conteúdo, que treina estudantes entre 17 e 21 anos para se tornarem verificadores de fatos em seus próprios grupos familiares e círculos de amizade, e InternetLab, parceira da plataforma na produção de vídeos educativos sobre como identificar e agir contra a desinformação e outros tipos de conteúdo problemático.
“Dada a natureza privada das mensagens do app, o foco do WhatsApp é educar as pessoas sobre desinformação e capacitar os usuários com novas opções de controle dentro do aplicativo”, diz o texto enviado à reportagem. As assessorias do TSE e do Facebook foram procuradas, mas não responderam nossos contatos até a finalização desta matéria.
A batalha continua
2019 começou já marcado pela perpetuação da lógica da desinformação. Nos discursos oficiais e nas redes, multiplicam-se conteúdos sobre o regime socialista que vinha, supostamente, sendo adotado no Brasil e sobre a também suposta doutrinação marxista a que seriam submetidos os estudantes em escolas e universidades. Outro exemplo mostra como a desinformação tem sido utilizada para legitimar propostas do novo governo. Em meio aos anúncios de ações de desmonte do sistema de proteção ambiental, o novo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, usou sua conta pessoal no Twitter para criticar um contrato de locação de veículos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e foi rebatido pela presidenta do órgão Suely Araújo. Após publicar nota contextualizando a necessidade dos gastos, ela pediu exoneração do cargo.
Os exemplos mostram que a batalha da informação não será encerrada. Para a coordenadora do Intervozes, Bia Barbosa, ela se dará não só pelo efeito que a prática massiva e indiscriminada do uso da desinformação teve no processo eleitoral, mas porque o Brasil convive com um cenário de concentração dos meios de comunicação e de falta de educação para a mídia, problemas que ganham um alcance exponencial em função da tecnologia, a qual tem sido instrumentalizada para o desvirtuamento do debate público.
“O Brasil é um país com ampla concentração dos meios de comunicação e que registra casos históricos de desinformações produzidas pelos veículos tradicionais. Com a Internet, a gente ganha uma velocidade e um alcance exponencial dessa desinformação, mas não podemos tratar dessa questão de maneira dissociada do contexto do sistema de comunicação”, defende. “O fato de a sociedade ter baixa percepção sobre notícias deliberadamente fraudulentas, de compartilhar informações desse tipo e de não opor forte reação à questão, tudo isso faz parte de um problema muito mais amplo que passa por educação e regulação e que a gente precisa enfrentar nesse debate”, pontua.
A jornalista defende a adoção de medidas capazes de reverter esse quadro, mas alerta que é preciso “não cair na tentação de achar que teremos uma solução simplista para esse enfrentamento”. De acordo com Bia, há pelo menos 30 projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional sobre o tema e novos que surgem a cada semana que caminham nesse sentido. Segundo ela, eles estão baseados em duas questões: a criminalização, com penas altíssimas de cadeia, até do cidadão que compartilha notícia falsa e a outra a mudança do Marco Civil da Internet para obrigar as plataformas a identificar e remover conteúdos falsos.
Quanto à primeira problemática, Bia aponta que a criminalização, com a criação de um novo tipo penal relativo à produção e compartilhamento das fake news, consiste em uma resposta punitivista ao problema que oferece riscos à liberdade de expressão e desconsidera os inúmeros problemas do sistema prisional, como a seletividade, a morosidade e a superlotação dos presídios. Sobre a transferência de responsabilidades para as plataformas, considera perigoso, “pois elas, muitas vezes, funcionam com base em lógicas, princípios e critérios muito diferentes do que a legislação brasileira estabelece”. “Se o dever de definir o que é verdade ou não é verdade, se o poder de definir o que circula ou não na Internet estiver nas mãos das plataformas, não tenhamos dúvidas de que nós, defensores de direitos humanos, mulheres, negros e negras, seremos os mais prejudicados por isso”, pontua.
Isso não significa que as plataformas não tenham responsabilidades e não devam ser reguladas. “Essa falsa dicotomia precisa ser superada, porque existem leis neste país, como leis que combatem a injúria, a difamação e mesmo a lei eleitoral que trata de impulsionamento, uso de banco de dados e outras questões e a omissão diante de flagrantes violações precisa gerar responsabilização”, acrescenta.
Para o Intervozes, é preciso garantir o respeito às leis existentes, inclusive à nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. “Enquanto o cidadão estiver tendo uma coleta massiva de seus dados pessoais que permita a criação de perfis para o direcionamento específico de conteúdos, o efeito da produção e da disseminação vai seguir sendo muito avassalador no país”, detalha Bia. Em paralelo, é preciso que a Polícia Federal investigue casos de desinformação para se descobrir como essas notícias estão sendo produzidas e disseminadas e que a Justiça atue de maneira célere a partir disso.
Para combater a indústria da desinformação, a organização defende que outro passo necessário é a adoção de medidas de transparência sobre o funcionamento das plataformas e de ampliação do controle dos usuários sobre os conteúdos que publicam e acessam, desmontando os efeitos bolha e a estrutura de monetização que estimula a criação e difusão das chamadas notícias falsas. O caminho para a solução do problema é longo e complexo, mas só será trilhado com mais e não menos informações e direitos.
* Jornalista, doutora em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB), professora da Universidade Federal do Ceará (UFC) e integrante da Coordenação do Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social.